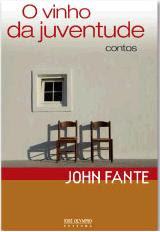- Você lê, Bohr?
- Você lê, Bohr?- Só o catálogo de prostitutas, por quê?
- Eu sempre li bastante. Depois que minha santa mãe se foi, meu pai colocava um livro no meu colo, ordenava que eu o lesse até o fim e saia de casa. E ele nunca parava em casa.
- E eu pensei que a MINHA infância tinha sido uma merda.
- Mas a questão não é essa. O que eu quero dizer é que tudo isso que aconteceu do carro até aqui me lembrou muito um cara. Um escritor.
- Escritores são todos uns babacas.
- O cara chamava-se Chales Bukowski. Um americano fodido que virou o fodão depois de velho. Bebeu, fumou, apostou e meteu. Até morrer com seus setenta e algo.
- Olha só. De repente, ele não parece tão babaca assim.
- De fato ele não era. Na verdade, ele me lembrava muito você. A única diferença é que ele escolheu uma arte diferente da sua.
- Não me compare com um escritor, seu merda. Todo mundo curte beber, fumar, apostar e meter. E não é porque um americanozinho de merda fez disso o ganha-pão dele que eu tenho algo em comum com esses tipos.
- Acontece que, esse cara, meu chapa, tinha um talento que só você, na Família inteira, tem. A capacidade de apressar as coisas. Explodir. Dar um fim em tudo, de uma hora pra outra. Interromper tudo e mudar o curso das coisas. Pelo simples fato de ter considerado isso uma boa ideia.
- Não sou eu que dito o fim. É o sangue no chão.
- Se for assim, o fim dessa merda toda está próximo.
Olhei admirado para o rosto de Sergey. Estava diferente. Parecia um homem, realmente. Transpirava confiança, coragem, sabedoria. Comecei a pensar numa resposta, mas me perdi em um sentimento confuso. Respeito, talvez. Ele se levantou, olhou para mim, fez sinal de positivo com a cabeça e foi até a porta. Admirei o cenário ao meu redor. E, como o novo homem com o qual conversava a pouco disse, decidi dar um fim em tudo. Num pulo, me pus de pé, limpei a sujeira das minhas roupas, com uns tapas coloquei meu cabelo no lugar. Armas e colhões. Ambos nos lugares certos.
Me virei em direção a porta, tendo como destino a incerteza. Ouvi uma risada distante. O som das risadas foi se intensificando. E lá do fundo, vi dois homens caminhando. Me senti no corredor da morte. Imóvel, em minha cela, esperando pelos meus capatazes. Sergey vinha acompanhado do Pai, seu novo melhor amigo, aparentemente.
- Bohr! Eu estava falando de você com meu amigo Sergey aqui!
Antes que eu pudesse reagir, Sergey sacou sua arma e enfiou quatro balas nos meus braços e mãos.
- Acho que você não vai precisar disso aqui, não é? – disse o Pai, tomando posse da minha arma.
- Já isso aqui pertence à Família. – disse novamente, tomando a Magnum dourada de Yuri.
- Você sabe o que eu acabo de fazer? Acabo de levá-lo de volta ao dia em que te encontrei. Com medo, desamparado, sozinho. Só mais uma criança.
O homem era bom no que fazia. Melhor que eu. Muito melhor que eu. Anos depois, corpos depois, vidas depois, eu estava de volta às minhas origens. E eu não gostava disso. Definitivamente, não gostava. Tentei me manter em pé, mas minhas pernas fraquejaram. Fui ao chão e lá fiquei, olhando para cima e tentando decifrar cada movimento dos dois.
Do chão vi Sergey deitar-se de bruços aos pés de Ludwig. Era um ritual. Eu fiz a mesma coisa aos dezesseis anos, quando entrei pra Família. Agora, para quem já faz parte dela, esse ritual significa um lugar garantido na mesa da Tríplice, um grupo seleto que pega as melhores faxinas e, consequentemente, as melhores remunerações. E lá, deitado com o peito para baixo, Sergey não teve a chance de ver Ludwig sacar a Manum de Yuri e enfiar três balas em sua nuca.
- Hahahahaha. Você é um verdadeiro covarde filho da puta, não é, Ludwig? E eu precisei matar o viado do seu filho pra poder descobrir isso. Veja como é a vida.
- Covardia foi o que vocês fizeram com o Tristan. O que eu estou fazendo é vingança.
- Vingança. Por que tudo tem que girar em torno da vingança, dessa pequena palavra de merda?
- Tá vendo porque eu estou aqui, de pé, e você aí, no chão? Você é só um garoto, Bohr. Substituível em qualquer função e em qualquer lugar. Agora, entenda de uma vez por todas. A guerra move o mundo, a vingança move as guerras. Faça as contas. Homens, mulheres, crianças, velhos, a humanidade. Tudo é movido pela vingança.
- Olha só que mundo maravilhoso nós vivemos. A vingança move a porra da humanidade, e eu aqui achando que ela só movesse mais grana para a conta bancária da Família. Pode confessar. Foi isso que te colocou onde está hoje.
- Isso o que?
- Isso que você faz! Pegar uma merdinha, algo insignificante, sem sentido algum e, com um discurso planejadinho e alguns gestos cansados, tornar em algo grandioso. Tornar a PORRA DO COMBUSTÍVEL DA HUMANIDADE.
- Homens pequenos enxergam as coisas como elas são. Homens grandes enxergam as coisas como eles são.
- Quem disse isso? Foi o tal de Bukowski? O americano fodão?
- Não, acabei de criar. É isso o que eu faço, não é? Eu só não sabia que você lia Bukowski.
- Eu não leio. O cara que você acabou de matar me falou dele uns minutos atrás.
- Por acaso você lê, Bohr? – perguntou Ludwig, enquanto ajustava a arma de Yuri.
- De novo essa pergunta?
- Simplesmente responda e depois cale a boca.
- Só Bukowski e o catálogo de prostitutas, por quê?
- Se você lesse, ia perceber que a maioria dos autores torna a morte algo romântico, extremamente elaborado e dramático. É como um tique nervoso literário que só não atinge uma privilegiada parcela desses babacas das palavras.
Comecei a prestar atenção e ele continuou.
- O que não faz sentido nenhum, você não concorda? Eles colocam a morte como o clímax, enrolando por páginas e páginas só para perder mais páginas descrevendo minuciosamente o ato de morrer. Quando na verdade ela não é porra nenhuma, além do fim. Colocam a morte como o estopim para o sofrimento em sua mais pura forma. A essência da decadência. Quando na verdade ela não é porra nenhuma, além de uma bala e um punhado de pólvora. Sabe o que eu acho? Que esses escritores apaixonados pela morte e seus personagens falecidos deveriam largar suas canetas e segurar uma dessas belezas aqui. Ver como ela torna toda essa ladainha de morte e sangue simples. Quase sem graça, se não fosse todo o processo até chegar a um momento como esse. Quando isso acontece, aí sim, teremos grandes obras.
Ludwig parou, ajustou a gravata e prosseguiu.
- O que eu vou te falar em seguida é um segredo sagrado. Você consegue guardá-lo?
- Acredito que não.
- Tudo bem, em breve não fará mais a diferença mesmo.
- Fala logo, caralho.
- Eu sempre quis ser escritor. Sério.
- Se você escrever tão bem quanto discursa, porra, eu compro tudo o que você escrever.
- Hahaha, assim você quase me faz pensar duas vezes, meu filho. Mas, não. Não faço o tipo babaca. Eu prefiro viver. Eu faço da minha vida uma grande obra. E, advinhe, esse é um momento daqueles que os escritores adoram.
- Isso daria uma história e tanto, Pai.
- Meus setenta e tantos anos até aqui, sim. Esse momento, não. Esse momento será como eu acho que ele deve ser. Sem romance, sem glamour, sem exageros.
- Sem graça.
- É. Sem graça.
Vi Ludwig pressionar o gatilho. Depois disso não lembro de mais nada.